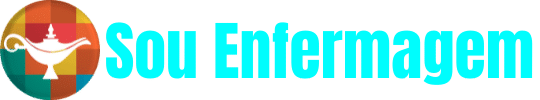Nessa reportagem, a Poli convida você a embarcar numa máquina do tempo.
Essa viagem vai nos levar a quatro, cinco décadas atrás. Vamos olhar para números e casos, pesquisas e relatórios, um conjunto de histórias que ajudam a relembrar (para aqueles que viveram) e despertar (para aqueles que nem eram nascidos) como era a saúde no Brasil sem SUS.
Que país era esse?
Uma vez os ponteiros ajustados, nosso desembarque acontece em um período muito específico da história nacional: a ditadura empresarial-militar. “Em 1964 houve um golpe. Os militares foram usados pelas classes dominantes brasileiras para interromper o debate que se espalhava em toda a sociedade pelas reformas de base – reforma agrária, reforma tributária, reforma urbana mas também reforma sanitária. Foram 21 anos de ditadura. E, sob a ditadura, o país viu acirrarem seus contrastes e desigualdades”, contextualiza o médico sanitarista Nelson Rodrigues dos Santos, o Nelsão, professor aposentado da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).
Mas durante algum tempo, os problemas sociais não ficaram tão evidentes para uma parte da sociedade. As coisas começaram a mudar nos anos 1970, que marcam o ápice e o fim do chamado ‘milagre econômico’. Isso porque, a partir de 1968, o PIB deu um salto – chegando a um crescimento de 14% em 1973. “Havia uma oferta expressiva de dinheiro lá fora, e o Brasil pegou muitos empréstimos. Mas com o primeiro choque do petróleo começa a crise”, situa o historiador Carlos
Fidelis Ponte, da Casa de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz). E, com a crise, chegaram os sinais de que o ‘milagre’ não tinha sido assim tão milagroso. Com o fim do ciclo de crescimento, os problemas da ditadura foram ficando mais visíveis para a sociedade à medida que o próprio governo ia se enfraquecendo. Para início de conversa, os indicadores de saúde estavam piorando. “E piorando muito”, reforça Carlos.
“No município de São Paulo, em 1973, 90 crianças morreram a cada grupo de mil nascidas vivas. Em 1961, ocorreram 60 óbitos por mil nascidos vivos, o índice mais baixo do século”, escreveu Luiz Eduardo Soares, pesquisador do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento (Ibrades), num ensaio que ocupou os dois primeiros números da ‘Saúde em Debate’, a revista do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde (Cebes), criado em 1976. No país, então com pouco mais de 90 milhões de habitantes, ele destacou: “Nos últimos cinco anos [1972-76] em todo o Brasil, 1.417.500 crianças morreram por causas evitáveis, associadas à desnutrição e à falta de saneamento, como difteria, coqueluche, sarampo, tétano, poliomielite e doenças diarreicas. O total de óbitos é igual à população de Belo Horizonte, a terceira cidade do país”. Como efeito de comparação, em 2015 a taxa de mortalidade infantil foi de 13,8 a cada mil nascidos vivos.
O texto traz mais números assustadores: 72% dos que morriam no país tinham menos de 50 anos e, destes, 46,5% eram crianças menores de quatro. Em comparação, na Suécia, na Inglaterra e nos Estados Unidos, apenas 20% dos óbitos ocorriam nas faixas etárias inferiores a 50 anos. Doença de Chagas, peste bubônica, tuberculose, hanseníase, febre amarela, malária, filariose, leishmaniose… A lista prosseguia – e cada enfermidade exibia indicadores piores que as anteriores. Mas, para além da relação simples de causa e efeito, que liga pobreza à doença, os sanitaristas da época estavam tentando mostrar que o quadro epidemiológico brasileiro não tinha nada de automático ou natural.
“A ideia do círculo vicioso entre pobreza e doença é velha”, escreveu David Capistrano em 1977. “Mas sobreveio o movimento de março de 1964, e depois de alguns anos, o ‘milagre’. Aquilo que representava o oposto da ‘pobreza’ (…) O PIB crescia, o Brasil ficava mais rico. A ser verdadeira a teoria do ‘círculo vicioso’, ele mesmo teria sido rompido em algum ponto e a nova dinâmica do enriquecimento deveria trazer o recuo da doença, expresso nos indicadores”, argumentou o médico. E concluiu: “Não basta o crescimento das forças produtivas, o aumento da produtividade do trabalho, da riqueza nacional disponível. É preciso verificar como se deu esse crescimento e a quem ele beneficia. Só os ingênuos ou os velhacos acreditam que beneficia ‘a todos’”.
A “política do abandono”, que segundo Carlos Ponte sempre foi a forma como as elites dirigentes do país lidaram com o povo, se atualizou nos marcos do capitalismo do século 20. E tocada por um governo autoritário. “Nos anos 1970 isso gritava porque a repressão era forte. Os sindicatos estavam amordaçados. Havia repressão política aos movimentos estudantis, aos movimentos políticos, aos partidos. Então a exploração se intensificou muito”, explica o historiador.
Foi nessa época que o Brasil protagonizou um dos maiores movimentos populacionais da história moderna: o êxodo rural. Isso porque o governo queria um crescimento econômico rápido. E escolheu o setor agrário para atingir o objetivo. Fez projetos de “ocupação” do Cerrado, expulsando camponeses e populações tradicionais que lá viviam. “Fez um grande investimento em subsídios para o campo, na compra de máquinas e insumos, por exemplo. E isso gerou a expulsão dos trabalhadores, acelerando a migração principalmente para os grandes centros do Sudeste do país”, completa Carlos. Entre as décadas de 1960 e 80, 27 milhões de pessoas que viviam na zona rural foram para as cidades. E se alojaram nas periferias e favelas, locais sem sanea-mento, sem água encanada, muitas vezes sem luz, que ofereciam condições perfeitas para a proliferação de doenças. Iam vender sua força de trabalho barato – isso se conseguissem emprego. “Os migrantes chegavam às cidades completamente desamparados. E da forma como a saúde estava organizada, a cidadania estava atrelada à carteira de trabalho”, afirma o pesquisador.
A (des)organização da saúde
“Os serviços de saúde no Brasil atendem basicamente às necessidades dos grupos sociais de maior poder aquisitivo. São serviços voltados para a recuperação e não para a prevenção, concentram-se na solução de problemas degenerativos que afligem as camadas mais bem situadas na escala social, quando as doenças infecciosas ainda são responsáveis por grande parte da mortalidade e morbidade da população brasileira. Estes serviços têm ainda uma tendência marcante à sofisticação e à complexidade. Respondem aos interesses dos produtores de insumos, de equipamentos e aos produtores de serviços. A população, neste contexto, deixa de ser sujeito para ser mercadoria manipulada pelas forças de mercado”. Essa descrição abre uma reportagem do jornal Folha de S. Paulo, em 1977. A crítica pode soar estranha vindo de quem vem mas, na época, a irracionalidade do sistema de saúde brasileiro tinha se tornado patente até para a mídia comercial.
Você provavelmente já ouviu falar que, a partir dos anos 1920, o país foi desenhando um modelo em que, primeiro, algumas categorias (ferroviários, marítimos etc.) foram conseguindo esquemas de assistência à saúde e benefícios como aposentadoria. Com o passar do tempo, todos os trabalhadores inseridos no mercado formal tinham direito a fazer consultas, exames, cirurgias. Tudo isso estava sob o guarda-chuva do Ministério da Previdência e Assistência Social que, no período militar, teve duas instituições que se ocuparam da saúde: o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), criado em 1966 e substituído em 1974 pelo Instituto de Assistência Médica da Previdência Social (Inamps). Você também já deve saber que as pessoas que não tinham carteira assinada não tinham acesso a consultas, exames, cirurgias. Mas, na verdade, as coisas eram um pouco mais complexas do que isso.
Um mito importante a ser quebrado é que todos que tinham carteira assinada usavam, necessariamente, a previdência – e que eram iguais. Isso porque embora a classe média tivesse carteira assinada e pudesse usar a medicina previdenciária, ela pagava. “Era totalmente natural”, diz a pesquisadora Ligia Bahia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). “A classe média nunca foi atendida pelo setor público. Ela pagava consulta particular, pagava os procedimentos, que eram muito mais baratos. As pessoas pagavam parto, cirurgia”. Além disso, a maior parte dos previdenciários eram pobres. Segundo os cálculos de Luiz Eduardo Soares no texto do Cebes, 56% dos brasileiros recebiam um salário mínimo ou menos e 19% entre um e dois salários mínimos. Essa situação geral também se refletia no mercado formal de trabalho. “A grande maioria daqueles que tinham carteira ganhavam um salário mínimo. Esses previdenciários pobres tinham muita dificuldade de serem atendidos na Previdência”, conta Nelsão. As filas do Inamps (como a da foto na página 14) eram figurinhas carimbadas nos jornais (assim como as do SUS são hoje).
Um segundo engano comum é pensar que a população sem carteira só tinha atendimento se recorresse à filantropia. “O que a gente tinha? Algumas unidades públicas que atendiam a todos. Os hospitais universitários, que atendiam a todos, alguns como indigentes, outros como medicina previdenciária. E as filantrópicas, que também atendiam a todos, embora na condição de indigentes”, explica Ligia, que cita ainda duas iniciativas – o Programa de Interiorização de Ações de Saúde e Saneamento (PIASS) e a Fundação SESP – que, de alguma forma, levaram ações de assistência aos grotões do país.
Tanto a pesquisadora quanto Nelsão ressaltam que a palavra “universal” na saúde não foi invenção dos sanitaristas, mas dos militares. “O ministro da previdência falava em universalização da saúde. Em 1974, eles universalizaram o atendimento de emergência nos PAMs, os postos de atendimento médico que levam a sigla até hoje. O que não era universal era o atendimento nos serviços privados contratados”, explica ela, que pondera que esses serviços, no entanto, eram a maioria. E neles só quem tinha carteirinha podia ser atendido.
Isso não significa que o país não fosse marcado por uma dualidade. Havia, sim, gente considerada de ‘segunda classe’. E uma epidemia, em especial, demonstra o beco sem saída da saúde em tempos de autoritarismo no país do “ame-o ou deixe-o”. “Os governos procuravam não mostrar nossos problemas”, conta o epidemiologista Moisés Goldbaum, da Universidade de São Paulo (USP). E, assim, entre 1970 e 1974, a ditadura ocultou uma epidemia de meningite no município de São Paulo. “Os ditadores levaram praticamente quatro anos para tomar atitudes efetivas para controlar a epidemia. Enquanto a doença estava atingindo apenas a periferia, eles ocultaram. Mas na medida em que foi chegando no centro da cidade, ou seja, começou a criar problemas onde se concentra a classe média, aí sim, gerou um pânico social muito grande que obrigou as autoridades a tomarem alguma medida”, relembra.
Como ainda não existia vacina, a medida mais importante era ter transparência, chamar atenção para o problema e garantir uma estrutura hospitalar para onde os doentes pudessem ser encaminhados, explica Moisés, que detalha: “Não foi tomada nenhuma providência, tudo foi abafado. Os jornais foram censurados. As pessoas com meningite ficavam circulando pela cidade, facilitando a disseminação da doença. E isso foi num crescente até que uma epidemia, que poderia ter sido evitada, chegou a níveis importantes e significativos”.
Além disso, como a reportagem da Folha resumiu, o setor privado encontrou na medicina previdenciária o ambiente ideal para prosperar sem riscos. Muitos escândalos de corrupção explodiram na época, mostrando como empresas buscavam fraudar a Previdência mentindo sobre o número de atendimentos que faziam. O quadro geral era de insatisfação.
A ‘mão para a boca’ que engoliu a saúde
A Constituição de 1969 definiu que a iniciativa estatal na área econômica era de caráter complementar à iniciativa privada. “O governo militar foi superimportante para a privatização em todas as áreas. Na saúde, as empresas eram da mão para a boca, como se diz. Eram médicos do trabalho que faziam suas empresinhas. Com o regime militar, eles se tornam capitalistas no sentido literal do termo: saem do esquema de autofinanciamento e passam a tomar empréstimos e créditos do governo”, afirma Ligia Bahia. De acordo com ela, isso aconteceu “com clareza, com determinação” porque na cabeça dos militares quanto mais empresas o Brasil tivesse, melhor. “Esse era o discurso: mais empresas, mais mercado, equivaliam à modernização. E esses médicos souberam navegar muito bem nessa conjuntura”, diz.
A demanda era garantida pelo Estado. O INPS e, depois, o Inamps operavam basicamente através de convênios com a rede privada ao invés de investir na ampliação e qualidade da rede própria de serviços. De acordo com o estudo pioneiro de Hésio Cordeiro sobre o setor privado, as internações nos hospitais próprios da Previdência, que já representavam uma parcela ínfima do total – 4,2% em 1970 –, minguaram ainda mais. Em 1976, eram de 2,6%. Os 41 hospitais do Inamps fizeram 253 mil internações frente aos 6,28 milhões do setor conveniado em 1978. Nesse ano, o privado respondeu por 53% das consultas médicas pagas pelo Inamps.
“A equação é simples: os militares criaram na Caixa Econômica Federal uma coisa que se chamava Fundo de Apoio à Assistência Social, o FAS. E esse dinheiro foi financiar a construção de hospitais. E tinha o Inamps, que era para pagar a assistência médica. Então o dinheiro público, pelo FAS, financiava a construção de hospital e o dinheiro público, pelo Inamps, contratava os hospitais que iam ser construídos para prestar serviço para a Previdência. Isso foi, realmente, uma coisa monumental”, resume Nelsão. Detalhe: “O FAS na educação beneficiou as escolas públicas. E na saúde, não”, emenda Ligia.
Com recursos da loteria esportiva, o Fundo financiou também ampliação e compra de equipamentos. A linha de crédito destinou, até 1979, sete bilhões de cruzeiros para a saúde, o equivalente, hoje, a cerca de R$ 1,545 bilhão (valores corrigidos pelo IPCA). De acordo com um cálculo feito por Hésio Cordeiro em 1983, 70% desses recursos ficaram concentrados em hospitais particulares de apenas dois estados: Rio de Janeiro e São Paulo. “Virou um grande negócio mexer com saúde”, define Carlos Ponte, que destaca que as instituições lucrativas se multiplicaram: entre 1964 e 1974, esses estabelecimentos passaram de 944 para 2.121. Um crescimento de mais de 200%.
“A maior parte dos recursos do governo federal estavam na Previdência e fluíam para o setor privado. A ponto de o presidente da Federação Brasileira dos Hospitais declarar em 1975 que o Estado não tinha que se meter com assistência. Tinha que se ocupar de epidemias e problemas que não eram de interesse do mercado, como lepra, tuberculose, etc.”, lembra Carlos. De acordo com o historiador, o Ministério da Saúde não tinha orçamento praticamente. No período que vai de 1970 até 1984, a participação da pasta nas despesas gerais da União jamais ultrapassou 1,82%. A atenção médico-hospitalar abocanhou, em 1978, 86,48% dos programas do governo federal voltados para a saúde, enquanto a atenção básica levou só 0,87% dos recursos.
Enquanto isso, na saúde mental…
Os serviços ambulatoriais se reduziam a atendimento de psiquiatria no Inamps. E isso recebia de 1% a 2% de todos os recursos da saúde mental, que iam para os hospitais. “Os hospitais psiquiátricos privados tinham plena liberdade de internar quem quisessem e nas condições que bem entendessem”, lembra o pesquisador Eduardo Mourão Vasconcelos, da UFRJ. “Nós costumávamos dizer que o hospital privado recebia um cheque em branco do Inamps: bastava internar para receber. E isso gerou, inclusive, problemas para a Previdência porque a população começou a perceber a facilidade de internação. Então, se utilizava o hospital psiquiátrico como forma de justificar aposentadoria por invalidez, por exemplo”, diz, contando que a doença mental virou um dos primeiros itens de pedido de aposentadoria no país.
Além dessas estratégias para contornar o Estado, abundavam casos em que pessoas eram internadas mesmo sem ter qualquer transtorno mental. “Podia ser um marido querendo se desfazer de uma esposa porque tinha outra… Ou crianças deficientes. Em suma, todos os indesejáveis”, resume. O filme ‘Bicho de sete cabeças’ conta a história real de Austregésilo Bueno que, com 17 anos, foi internado em um hospício depois que seu pai achou um cigarro de maconha no seu casaco em 1974. “O filme reflete a realidade de um hospital privado lucrativo que, em determinado momento, tem leitos ociosos e vai recolhendo mendigo na rua para fazer internação”, conta.
No setor público, a situação não era melhor. Os maiores hospitais psiquiátricos pertenciam aos governos estaduais. Juqueri, em Franco da Rocha (SP) e Barbacena (MG) são casos paradigmáticos. “As pessoas ficavam sem fazer nada, eram submetidas a torturas, não se tinha controle nenhum das condições sanitárias dentro desses asilos que eram verdadeiros campos de concentração”, conta Eduardo. Durante o período em que funcionou, morreram 60 mil pessoas em Barbacena. A história do hospício foi contada pela jornalista Daniela Arbex no livro ‘Holocausto brasileiro’. “Morriam pessoas de doenças infectocontagiosas e Barbacena vendia os cadáveres para as escolas de medicina, 17 no total”, diz ele. Esse estado de coisas, destaca Eduardo, era plenamente aceito pela sociedade.
“É isso que começamos a denunciar a partir de 1978, quando formamos o movimento de reforma psiquiátrica”, explica ele, que conta que a coisa não ficou só no discurso e os jovens psiquiatras e psicólogos partiram para a ação. Nos estados e municípios onde o partido de oposição à ditadura ganhava, lá estava alguém do movimento apresentando ideias. No final da década de 1980, em Santos, foi inaugurado o primeiro “CAPs” que funcionava sete dias da semana, 24 horas. Foi chamado de Núcleo de Atenção Psicossocial. “Esse serviço mostrou a viabilidade de substituir completamente o hospital psiquiátrico e a importância dessa atenção intensiva para a população com transtorno mental mais severo, que passava lá várias horas, fazendo atividades como pintura etc. E de intervenção junto à família, porque o serviço colocava em outro patamar a recuperação dessas pessoas, inclusive, em termos de cidadania”, conta Eduardo. E pondera: “Do ponto de vista assistencial, tiveram pouco impacto. Mas foram iniciativas que nos apontaram um rumo a seguir”.
O SUS antes do SUS
A mesma tática de ocupação ‘por dentro’ estava sendo usada pelos sanitaristas que lutavam pela conformação de um outro sistema de saúde no país. Tudo começou nas periferias que, com a migração, viraram uma panela de pressão. “Foram criadas e realizadas políticas públicas para atenuar a tensão social, que era explosiva. Os municípios começaram a arregaçar as mangas. E a saúde foi uma das políticas públicas que entrou nesse esforço – junto com a criação de linhas de ônibus, arruamentos. Os sanitaristas começaram a se dirigir aos prefeitos e a oferecer projetos para trabalhar nas periferias”, conta Nelsão. “Nós soubemos ser sensíveis àquele momento. Não tecnocráticos, sensíveis ao que estava se passando”, acrescenta Ligia.
Os primeiros postinhos de saúde, o embrião do que hoje conhecemos como atenção básica no Brasil, foram criados nessa época. “Eram pequeninos, muito pobres, vagabundos. As prefeituras alugavam nas periferias casinhas quase abandonadas”, descreve Nelsão. No começo, médicos, enfermeiros e demais profissionais atendiam só duas vezes por semana. Mas fazia diferença um serviço perto de casa. Além disso, os postinhos não faziam distinção entre quem tinha carteira assinada e quem não tinha. “A Previdência tinha os PAMs. Eram prédios grandes nos centros das cidades. Quando as próprias prefeituras, com orçamento escasso, começaram a fazer os postinhos, os sanitaristas começaram, ano a ano, a crescer suas equipes de médicos jovens, [profissionais de] enfermagem, auxiliares de saúde e dentistas. Aos poucos, os previdenciários que estavam na periferia das cidades foram indo cada vez mais para os postinhos. A maior parte deixou de ir aos PAMs”, relembra o sanitarista, que destaca: “Os postinhos já nasceram com o princípio da universalidade e toda a população tinha direito ao atendimento”.
Nessa linha, esses serviços foram criando um prestígio cada vez maior até que, em 1983, a Previdência Social começou a fazer convênios com as prefeituras. O nome desse convênio era AIS: Ações Integradas em Saúde, uma sigla muito famosa na época. “A Previdência percebeu que era mais vantagem assim. E quando pôs uma parte do dinheiro nas prefeituras todo mundo ganhou. O governo federal, que economiza dinheiro porque os PAMs eram estruturas gigantes e caras, e os municípios, que tinham um orçamento muito pequeno. Com as AIS, as prefeituras quase que dobraram seu orçamento. Foi um salto. E aí começou a se perceber que o país poderia organizar o atendimento à saúde de modo que a Previdência entraria num sistema único”, diz Nelsão.
Além da União, o governo estadual punha recursos e a prefeitura também. Somando os três ‘dinheiros’ dava para fazer um sistema de saúde. E, de acordo com Nelsão, esse novo sistema começou a pintar na cabeça de todo mundo no começo dos anos 1980. “E aí se olhava para os sistemas europeus que estavam dando certo e era exatamente isso. Uma boa atenção básica à saúde perto dos locais onde a população mora ou trabalha vai resolver de 80% a 90% das suas necessidades. Uma boa atenção básica manda para os hospitais ou para o atendimento especializado de 10% a 20% dos casos. Esse é o modelo europeu, que nós, brasileiros, assumimos. E quando o SUS assumiu essa possibilidade, assumiu pra valer e acontecer. Até porque desde os anos 1970, as prefeituras provaram que era possível”, resume ele.
E assim o SUS foi sendo criado informalmente antes da Constituição de 1988. “Quando essa discussão aconteceu não foi muito difícil porque não eram só ideias que se discutia na Assembleia Nacional Constituinte. Estávamos discutindo fatos”, frisa Nelsão. “O SUS não surge do zero. Mas carrega consigo uma herança – positiva e negativa – que existe e vai sobrevivendo”, conclui Carlos Ponte.
O SUS, contudo, não foi só uma luta dos profissionais que, de uma forma ou outra, estavam engajados na criação de um outro sistema de saúde. Partiu da sociedade civil uma grande campanha que chamou atenção da sociedade para os debates relacionados ao Sistema Único na Constituinte. Isso porque, sem SUS, o sangue era uma mercadoria como qualquer outra. Podia ser vendido e comprado. E como não havia uma política abrangente de saúde, sua qualidade não era devidamente controlada pelo Estado, tampouco pelo mercado.
“Existia uma verdadeira máfia do sangue. Realmente, o comércio do sangue era algo dominado por quadrilhas de bandidos que dominavam tanto os bancos privados, quanto os bancos de sangue públicos. Quem denunciasse isso estava arriscado a morrer’”, conta Moisés Goldbaum.
Com isso, muitas pessoas que recebiam transfusões eram contaminadas com doenças transmitidas pelo sangue, como hepatites. Na década de 1980, com a epidemia de HIV/Aids, o quadro ficou mais grave. O caso mais célebre é o do sociólogo Herbert de Souza, o Betinho. Hemofílico, ele precisava se submeter a transfusões periódicas. E uma delas, foi fatal. Na época, ainda não existiam medicamentos tão eficientes como hoje.
Mas Betinho liderou a campanha da sociedade civil. E conseguiu despertar a atenção da opinião pública mostrando que tinha alguma coisa de muito errada com aquele sistema de saúde. “Teve um filme sobre o sangue, a intelectualidade se encontrou com os problemas de saúde, que ultrapassaram uma certa barreira técnica”, considera Ligia Bahia. Mas não foi fácil.
Na Constituinte, o único ponto da área da saúde que precisou ir a votação foi justamente o do sangue. Havia emendas suprimindo a proibição da comercialização de hemoderivados. Depois de duas votações, ficou garantido na Constituição que “sangue não é mercadoria”, como dizia o slogan da campanha da sociedade civil. “Esta é uma questão nacional da qual o sangue é apenas uma ponta do iceberg, mas é uma ponta importante, é uma ponta fundamental”, disse Betinho, no dia 24 de agosto de 1988 no auditório Nereu Ramos, da Câmara dos Deputados. E completou: “A tragédia da Aids é a tragédia da morte que passa por este sistema de saúde que está marcado pela comercialização, pelo lucro e pela impunidade”.
Publicado no EPSJV/Fiocruz